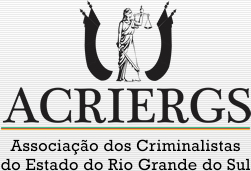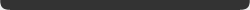25.06.25
César Peres
A farsa da neutralidade no processo penal e a função garantista da Advocacia Criminal
A justiça penal brasileira é um palco. E como em todo teatro, há personagens, roteiros e, sobretudo, máscaras. A mais insidiosa dessas falsidades é a da neutralidade do julgador e do caráter técnico das decisões judiciais. Sob o véu do juridiquês e do aparato institucional, esconde-se o que Pierre Bourdieu (O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, pg. 9) tão bem definiu como poder simbólico: o poder de impor uma visão de mundo travestida de universalidade, que oprime sob a aparência de legalidade.
Na prática forense, vemos diariamente o Direito Penal ser aplicado com rigor e severidade sobre os corpos que historicamente já carregam o peso da exclusão: o pobre, o negro, o periférico. Os autos do processo — frios, técnicos, desumanos — tentam apagar a violência de origem, como se o que ali se julga não fosse fruto de uma história de abandono e silenciamento.
A linguagem da sentença, carregada de expressões como “contornos de periculosidade”, “tendência à reincidência” ou “personalidade voltada ao crime”, é apenas a tradução simbólica do preconceito social. O juiz, nesse contexto, não julga apenas fatos e provas, mas pessoas e histórias que aprendeu a temer.
Protegido pela toga e pela posição institucional, o julgador é investido de um poder que se pretende impessoal, mas que é profundamente seletivo. O discurso da imparcialidade, tão repetido quanto vazio, apenas legitima o que já estava decidido antes do processo começar: a condenação do indesejado social.
O poder simbólico do Direito, nesse cenário, consiste em naturalizar a violência que se pratica contra o acusado. É quando a injustiça se apresenta como justiça que o Direito se torna mais perigoso. É quando a sentença condenatória se esconde sob a linguagem da técnica que ela se converte em instrumento de opressão.
Ao advogado criminalista não é dado o luxo da ingenuidade. Não podemos aceitar a farsa do processo como ritual purificador. Somos obrigados a denunciar que, muitas vezes, o que se chama de “formação livre do convencimento” é apenas o exercício de um arbítrio travestido de autoridade.
Cabe-nos lembrar — no plenário, nas peças, nos tribunais — que o Direito é uma construção política. E que todo poder, inclusive o simbólico, deve ser questionado, exposto e combatido. Nossa missão é enfrentar o sistema onde ele mais se esconde: no vocabulário da neutralidade, no formalismo vazio, na jurisprudência que esquece a realidade concreta do povo brasileiro.
Pierre Bourdieu nos ensinou que o poder mais eficaz é aquele que não se vê. O mesmo vale para o Direito Penal. Ele é mais eficiente quando o réu acredita que foi condenado porque “merecia”, quando o povo acredita que prisão é justiça, quando o advogado é visto como cúmplice do crime, e não como defensor da Constituição.
O causídico que não se curva ao aparato simbólico do Estado é visto com desconfiança. Mas é exatamente esse profissional — que questiona a prova, que denuncia o vício estrutural, que fala em nome do ser humano e não do estigma — quem mantém viva a função contramajoritária da advocacia criminal.
O poder simbólico, como se vê, está profundamente entranhado no cotidiano forense. Reconhecê-lo é o primeiro passo para enfrentá-lo. É preciso romper com a ilusão da neutralidade e compreender que o Direito, tal como o conhecemos, não é um reflexo da justiça, mas uma construção social, histórica e política.
A advocacia criminal, fiel à sua vocação garantista, tem o dever ético e político de atuar como resistência ativa às formas sutis — mas não menos violentas — de dominação institucional. Em tempos de encarceramento em massa, seletividade penal e retóricas punitivistas, defender é um ato de coragem. E de lucidez.
Avenida Senador Salgado Filho, n. 327, conjunto 1402, Centro Histórico, Porto Alegre - RS - Brasil, CEP 90010-221
(51) 3227.2755 ou (51) 98161.5121 - ivanparetajr@gmail.com